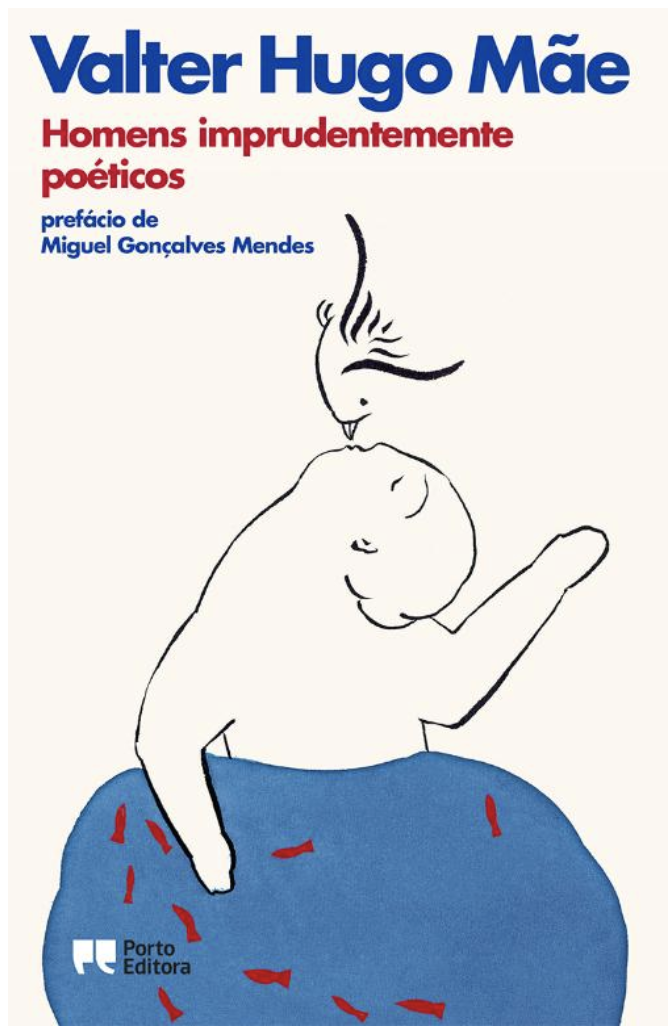
Ler para Crer: porque homens prudentes e «apoéticos» têm pouco para dizer
A sugestão literária semanal da equipa Escrivaninha, na nova rubrica “Ler para Crer”.
Passei os olhos pela contracapa vermelha e fiquei logo com eles a brilhar. Passei os dedos pelo envernizado e desdobrei a badana para me poder informar melhor sobre a minha compra, embora já soubesse que seria, inevitavelmente, uma óptima escolha. Não querendo exagerar, Homens imprudentemente poéticos foi uma bala que me esventrou mesmo ali no meio da barriga, e que me deixou a sentir um friozinho incomodamente agradável nas entranhas, ainda durante algum tempo depois de ter terminado a leitura.
Bem nos avisa José Tolentino Mendonça nessa badana final de que eu falava (da 2.ª edição da Porto Editora) — esse pedaço de capa pelo qual não resisti a passar os olhos, antes de me deixar levar fosse para onde fosse — e que eu subscrevo sem grandes rodriguinhos porque este livro é, verdadeiramente, uma «luminosa parábola que fica a reverberar muito tempo depois».
Trata-se, pois, de uma daquelas histórias que não nos deixa adormecer, nem pregar o olho meio minuto. A não ser, é claro, que adormeçamos para dentro do Japão que Valter Hugo Mãe descreve com uma fidelidade aguçada, onde a religiosidade desse país oriental está tão em equilíbrio com a falta de fé, como a fraqueza dos nossos espíritos humanos estão em desequilíbrio com os demónios que nos crescem nas gargantas, e os pesos mortos que, tantas vezes, carregamos no coração.
É um livro, de facto, imprudentemente poético como o artesão Itaro e o oleiro Saburo, cuja inimizade nele se conta com a doçura dos que se debruçam sobre essas coisas da vida com toda a crueldade que ela tem e não pede perdão por ter. Valter Hugo Mãe demonstrou, aqui, não ter papas na língua (não que alguma vez as tenha tido). E se as tinha, engoliu-as todas. Itaro e Saburo odeiam-se porque a vida que levam implica que se odeiem com forças que eles próprios não conhecem, não controlam, e nem sempre querem compreender.
As mulheres e os seus amores são diferentes, mas ambos desgraçados — como tantas vezes o são os amores conjugais e familiares. Não se entendem consigo próprios, não percebem bem as suas artes, atiçam fogos perigosos e domesticam feras que nós fazemos, continuamente, questão de ignorar. Vivem uma parábola agre e doce no meio de uma floresta cujo significado pinta um cenário negro mas, ainda assim, calmo, típico das sociedades orientais. Fala-se de deuses, de palavras, de mitos e de lendas, de presenças e de ausências das quais nem todos damos conta, mas que todos nós acabamos por sentir, mesmo cá em cima, no topo da pirâmide.
Com toda a razão, Miguel Gonçalves Mendes, que prefacia este livro, reflecte sobre esses deuses com que estas personagens dançam, como se fossem pouco mais do que «as agruras da vida» e «a filha da putice» que por aí anda, em tudo quanto é canto. Concordo (não a 100 por cento, só porque fica feio) com esta descrição.
Se Valter Hugo Mãe fica ou não contente com a crueldade do bicho que pariu para o mundo, felizmente, não interessa. São rudezas boas que só fazem falta a quem as lê — porque quem não lê nunca chegará a sentir falta de ter lido o que não leu.
Marta Cruz
(texto escrito de acordo com a antiga ortografia)
A Escrivaninha é uma equipa de freelancers que se dedicam à revisão, edição, tradução e produção de texto, criada por quem conhece e reconhece a beleza mas também os ardis da língua portuguesa. Conheça melhor os nossos serviços aqui.
